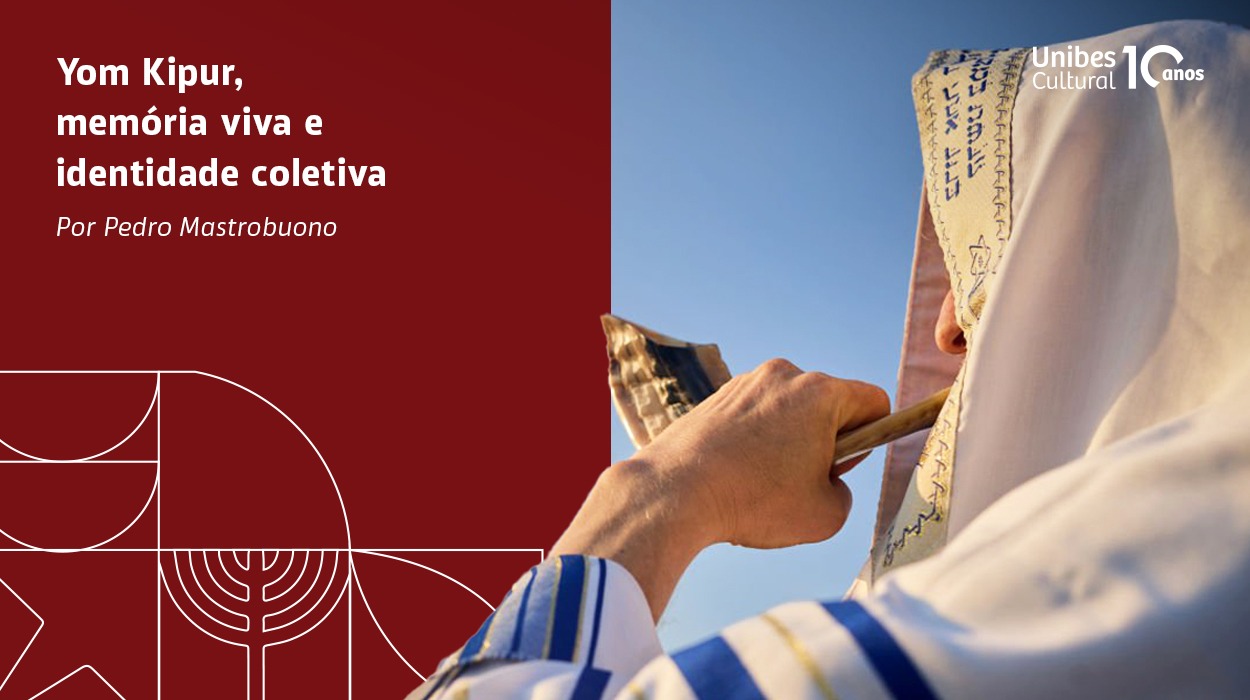
Yom Kipur é o ápice do calendário judaico. Mais do que um dia de penitência, ele é um tempo de suspensão. A vida cotidiana se detém: não há alimento, não há trabalho, não há distração. O corpo se submete ao jejum para que a alma possa emergir com mais clareza. Do ponto de vista antropológico, é um rito de inversão, em que o que normalmente é vital (comer, beber, ocupar-se de si) é momentaneamente negado, para que outro plano da existência se torne central. É nesse vazio aparente que se manifesta a plenitude do sagrado.
No passado, era o Cohen Gadol, o Sumo Sacerdote, que penetrava uma vez ao ano no Santo dos Santos para expiar as culpas do povo. Hoje, sem Templo, a responsabilidade se dilui: cada judeu carrega em si a tarefa de assumir esse diálogo íntimo com D’us e com a coletividade. Essa mudança é, em si, uma lição antropológica: o sagrado deixa de ser monopólio de um único ofício e se transforma em experiência compartilhada. O rito, que parecia estar no centro da cidade sagrada, se distribui por todas as comunidades judaicas do mundo.
Do ponto de vista museológico, Yom Kipur pode ser compreendido como patrimônio imaterial vivo. Ele funciona como um museu do tempo, em que a memória não se conserva apenas em objetos ou documentos, mas na prática ritual que se repete e se renova a cada geração. É um patrimônio que preserva a memória coletiva e, mais do que isso, molda a identidade do povo judeu. Essa identidade não se limita à relação individual com D’us, mas transcende o eu para construir o nós. É nesse sentido que Yom Kipur é um rito de identidade coletiva: nele, cada confissão pessoal se transforma em pertencimento a um destino comum.
Recordo, nesse ponto, uma experiência marcante durante a Marcha da Vida, ao visitar os campos de concentração de Majdanek, Auschwitz e Birkenau. Entre os participantes havia muitos sefaradi, que não tinham parentes diretos exterminados ali. No entanto, a dor os atravessava com a mesma intensidade. Vi pessoas sem uma história familiar concreta naquelas terras chorarem como se perdessem alguém próximo. Outros, que sabiam vagamente da presença de seus familiares nos campos, corriam para ligar a parentes no Brasil em busca de detalhes, nomes, histórias que pudessem dar corpo àquele sofrimento. O que se revelava era a força de uma identidade coletiva: a dor de um judeu reverbera em todos os judeus. O sofrimento da alma judaica transcende a história linear, pois nela estão inscritos os mortos da Inquisição, os perseguidos dos pogroms, os expulsos da Espanha, os aniquilados na Shoá e, hoje, as famílias feridas pelos sequestros em Israel. Essa é a essência do patrimônio vivo: uma memória que ultrapassa o indivíduo e se converte em experiência partilhada, ainda que dolorosa.
É nesse horizonte que a história de Auschwitz, tantas vezes narrada, ganha um novo sentido. Lembro aqui, de forma sintética, o testemunho sobre um Rabino que, prestes a ser executado, pediu apenas um último desejo: abençoar a multidão. A Bircat Cohanim pronunciada em meio ao campo de extermínio foi para muitos sobreviventes a mais pura expressão do sagrado, a bênção que condensou toda a santidade possível em meio ao inferno. Do ponto de vista antropológico, esse gesto mostra que o sagrado não é apenas um espaço separado, mas um acontecimento que pode surgir mesmo no abismo, rompendo a ordem da violência com a dignidade da memória e da esperança.
Esse duplo movimento, a preservação ritual de Yom Kipur e a memória viva das dores do povo judeu, pode iluminar também a realidade brasileira. Vivemos hoje o esgarçamento do tecido social, marcado pela polarização e pela incapacidade de reconhecer falhas coletivas. Yom Kipur ensina que o perdão não é apenas questão pessoal: é pacto comunitário. A expiação só tem sentido se acompanhada do reconhecimento do erro e da disposição de reparar. Uma sociedade que não sabe pedir perdão, nem acolher o perdão, está condenada a repetir sua violência. Nesse sentido, Yom Kipur oferece um modelo simbólico de regeneração, uma pedagogia do arrependimento e da reconciliação que poderia inspirar nossa vida pública.
Ao final do dia, quando o jejum é encerrado, ressoa o som longo do shofar. Ele é o sinal do fechamento do rito, mas também o anúncio de um recomeço. É um som que recorda que a vida pode renascer, que o perdão é possível e que a comunidade tem forças para reconstruir-se. Assim como a bênção em Auschwitz ecoou além do tempo, o toque do shofar é a voz que irrompe da eternidade para nos dizer que ainda é possível recompor laços, restaurar esperanças e renovar pactos.
Quando o Beit HaMikdash existia, o Cohen Gadol colocava suas mãos sobre o touro que seria sacrificado e pedia perdão três vezes: primeiro por si e por sua família, depois novamente sobre o mesmo touro, intercedendo por todos os Cohanim, e por fim sobre o bode destinado ao altar, pedindo perdão por toda a comunidade de Israel, por pecados voluntários e involuntários, conscientes e inconscientes, até mesmo cometidos por rebeldia. Além desse boi e desse bode, havia ainda o segundo bode, o famoso bode expiatório, que carregava simbolicamente as culpas do povo. Na ausência do Templo, cabe a nós, individualmente, assumir esse papel: pedir perdão por nós mesmos, por nossas famílias e por nossa coletividade, para que ela renasça mais forte e renovada.
Em Yom Kipur, o sagrado não é fuga do mundo. É reconexão com a vida, com a comunidade e com o futuro.







