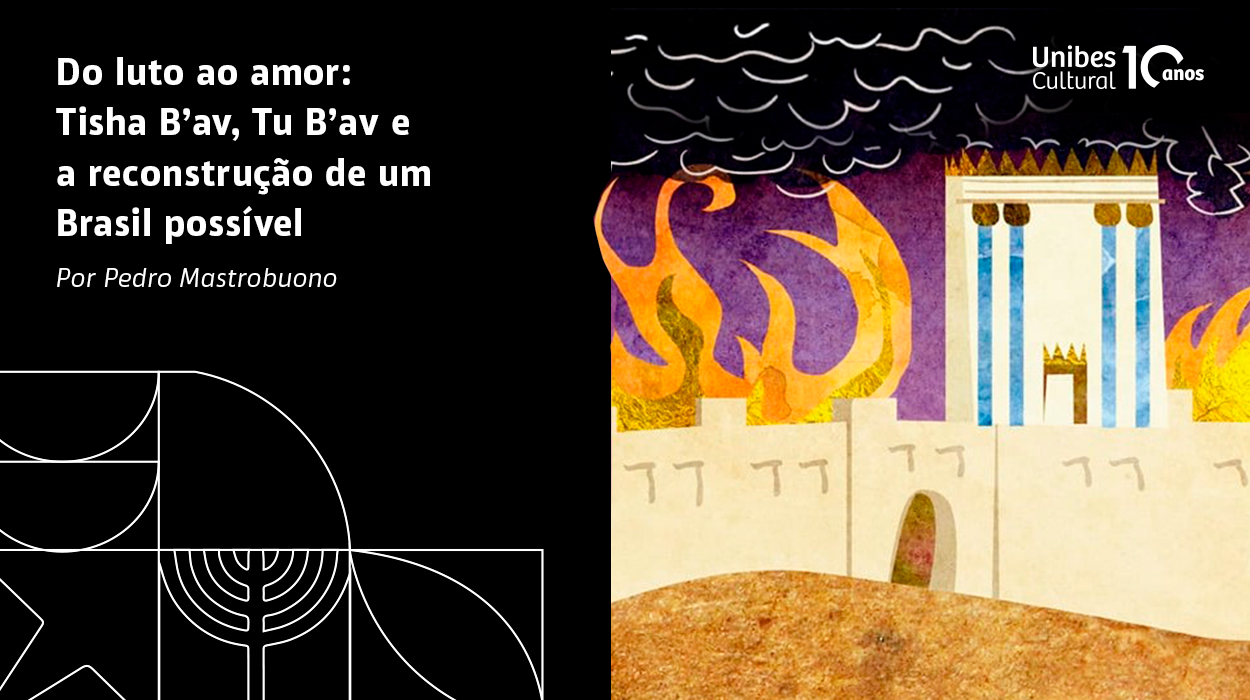
Por Pedro Mastrobuono
“Toda geração em que o Templo não é reconstruído, é como se ele tivesse sido destruído em seus dias.”
(Talmude, Yoma 9b)
O calendário judaico, como a própria alma do povo que o cultiva há milênios, não separa o lamento da esperança. É nesse entrelaçamento que se situam duas datas cuja proximidade no tempo revela um abismo de significados: Tishá B’Av, o 9 de Av, dia do luto nacional pela destruição dos Templos de Jerusalém, e Tu B’Av, o 15 de Av, a celebração do amor, da união e da possibilidade de reconstrução.
A aparente contradição entre essas datas é, na verdade, um movimento orgânico da história e do espírito. Nela, o luto não é o fim da história, mas o solo fértil do recomeço. E é com essa chave simbólica que gostaria de olhar para o Brasil de hoje, nação de riquezas incalculáveis, mas que atravessa uma de suas mais profundas crises institucionais, sociais e afetivas.
Tishá B’Av marca as maiores tragédias da história judaica: a destruição do Primeiro Templo por Nabucodonosor e do Segundo Templo por Tito, bem como o exílio, os massacres e as dispersões que se seguiram. É o dia em que se jejua, se senta no chão, se recita o livro das Lamentações e se contempla o vazio deixado por uma centralidade espiritual, política e ética reduzida a cinzas.
Mas o Talmude adverte: se o Templo ainda não foi reconstruído, é como se continuássemos a destruí-lo. A tragédia, portanto, não é apenas um evento passado. É uma condição persistente, um sinal de que os fundamentos do pacto social e da escuta coletiva continuam fraturados.
É difícil não ver, nessa leitura, uma imagem especular do Brasil contemporâneo. Vivemos um Tishá B’Av não litúrgico, mas social, com instituições corroídas pela polarização, narrativas desconectadas da verdade e do bem comum, vínculos comunitários dilacerados pela desconfiança. A ideia de um projeto nacional, inclusivo e solidário, parece ruir sob os escombros de interesses particularistas, ressentimentos e exclusões.
Como museólogo, aprendi a lidar com ruínas. Os artefatos remanescentes dos Templos de Jerusalém, preservados em sítios arqueológicos, inscrições ou objetos cerimoniais, não são apenas documentos históricos. São fragmentos de um mundo ético e simbólico. O utensílio ritual, a pedra marcada, a menorá representada em relevos, todos falam de um centro que organizava a vida, de um ponto de convergência entre o sagrado e o cotidiano.
No Brasil, esse centro também se esgarça. Mas seus vestígios sobrevivem, na memória dos povos originários, nas tradições afro-brasileiras, nos cantos do interior, nas lutas por justiça e dignidade. Há ainda o que escavar, o que preservar, o que cuidar com as mãos e com o espírito, para que o país não se reduza à poeira de sua própria grandeza.
Se Tishá B’Av nos ensina a reconhecer a dor da perda, Tu B’Av nos ensina a confiar no amor como força regeneradora. Seis dias depois do luto mais profundo, os jovens de Jerusalém se vestiam de branco, saíam aos vinhedos e dançavam. Era o dia dos encontros, dos casamentos, da celebração da igualdade entre as almas.
Não é coincidência que Tu B’Av surja em pleno verão, sob a lua cheia. Na tradição judaica, a lua é símbolo do povo e de sua aliança com D’us, uma aliança cíclica, marcada por fases de escuridão e de brilho, de retração e de plenitude. Nos primeiros quinze dias do mês, os judeus observam o crescimento da lua e, com ela, da esperança. A bênção mensal da lua, Birkat HaLevaná, evoca exatamente essa confiança na renovação. Assim como a lua minguante não é o fim, mas um preparo para a luz que virá, também os ciclos de crise do povo não significam extinção, mas prelúdios de reconstrução. O mesmo se pode dizer das nações, se elas forem capazes de reencontrar sua centelha essencial.
A luz retorna, não como negação do luto, mas como sua resposta. Como ensina a tradição chassídica, a descida foi para a elevação.
O Brasil, apesar de seus escombros, ainda tem vinhedos possíveis. A pluralidade de seus povos, línguas, músicas, culinárias, espiritualidades e afetos é um patrimônio que não foi incendiado. Ao contrário, é nesse entrechoque de identidades que pode surgir um novo pacto social, um templo que não será de pedra, mas de compromisso mútuo.
Gosto de lembrar, nesse ponto, as palavras de Darcy Ribeiro, quando dizia que o Brasil é um experimento civilizatório em aberto, e que “falhar aqui é falhar com a humanidade”. Darcy via no povo brasileiro não apenas uma mistura étnica, mas uma síntese histórica destinada a criar um novo humanismo.
Esse olhar é profundamente judaico em sua estrutura, ver no caos a gestação de um sentido, na diversidade a promessa de uma aliança. Se Tishá B’Av é o trauma, Tu B’Av é o projeto. E ambos são partes de uma mesma travessia.
Como antropólogo, aprendi a escutar o que não é dito, os gestos, os silêncios, os rituais esquecidos. O Brasil está cheio deles. Como judeu, levo em mim o ritmo litúrgico de um povo que dança sobre as cinzas, que planta vinhedos onde tudo parecia perdido.
Se cada geração é responsável por reconstruir o Templo, talvez possamos compreender que este Templo, hoje, é o Brasil. E que sua reconstrução exigirá não apenas reformas políticas ou jurídicas, mas um gesto radical de reencontro com o outro, de resgate da palavra pública, de recuperação do vínculo amoroso com a terra e com a memória.
Talvez, como no Tu B’Av ancestral, seja tempo de vestir-se de branco, ir ao campo e dançar.
Pedro Mastrobuono é Presidente da Fundação Memorial da América Latina, pós-doutor em Antropologia Social, agraciado com a Comenda Câmara Cascudo pelo Senado Federal (um dos sete brasileiros que receberam essa premiação até hoje), por sua trajetória na defesa do patrimônio cultural.







